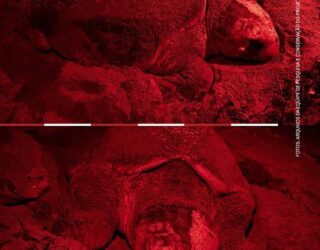WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – Após cair no período da pandemia, o número de estudantes brasileiros no ensino superior nos Estados Unidos voltou a se aproximar do patamar pré-Covid. Essa retomada do crescimento vem sendo ao mesmo tempo acompanhada por uma preocupação maior com a diversidade e o bem-estar da comunidade, inclusive sua saúde mental.
Segundo o relatório Open Doors, divulgado nesta segunda (13) pelo Departamento de Estado americano e pelo Instituto de Educação Internacional, o número de brasileiros em cursos de graduação e pós nos EUA subiu 7,6% no ciclo 2022/2023 em comparação com o período anterior, somando 16.025 estudantes.
A marca dos 16 mil não era ultrapassada desde 2020, ano em que estourou a crise sanitária, o que aumentou a dificuldade de deslocamentos internacionais.
Praticamente metade dos brasileiros nos EUA (49%) está matriculado em cursos de graduação. Na pós, são 31%, e outros 16% estão na categoria OPT (treinamento prático opcional, na sigla em inglês), situação em que um estudante pode permanecer legalmente no país após terminar seus estudos para trabalhar por um prazo de um ou dois anos, a depender do curso realizado.
Embora minoritário, o número de brasileiros nessa situação foi o que mais cresceu uma alta de 18% entre 2021/2022 e 2022/2023 (os anos letivos nos EUA começam no segundo semestre e terminam ao fim do primeiro semestre do ano seguinte).
“Nós estamos muito felizes e satisfeitos ao ver essa retomada. O Brasil é o nono maior lugar de origem de estudantes internacionais nos EUA”, diz Marianne Craven, secretária-assistente de intercâmbios acadêmicos da divisão de assuntos educacionais e culturais do Departamento de Estado.
O crescimento da comunidade após o choque da pandemia reflete as marcas do período, com uma discussão maior aos desafios de estudar fora do país, e tentativas de estruturação de redes de apoio em resposta.
“Esse semestre, por exemplo, eu estou fazendo uma aula com a Hillary Clinton. Isso é uma experiência única. Mas tem um lado muito perverso também desse processo, que é a saúde mental. Os recursos ainda são muito falhos nesse quesito”, diz Luiza Vilanova, 21, que está no último ano da formação em educação e ciência política na Universidade Columbia, em Nova York.
Por se concentrarem na graduação, boa parte dos brasileiros vão para os EUA jovens, logo após completarem o ensino médio, e para permanecer por um prazo longo, quando comparados a alunos de pós. Em meio a essa mudança radical, eles perdem a rede de apoio formada por familiares e amigos no Brasil.
“São várias pessoas de 18 a 22 anos em um ambiente de estresse acadêmico muito intenso. Em Columbia estamos no meio de uma cidade grande, é difícil encontrar uma comunidade se você não for muito proativo nisso. A gente às vezes idealiza muito esse mundo, mas aqui as coisas são mais complexas”, completa Luiza.
Pesquisas mostram que estudantes internacionais enfrentam uma série de dificuldades adicionais, comparados aos domésticos, que vão desde o processo seletivo até a vida pós-diploma.
Esses desafios incluem provas adicionais para se candidatar a uma vaga, valores mais altos de mensalidade, discriminação por outros estudantes e funcionários da faculdade, limitações para trabalhar enquanto estudam e acessar bolsas, e falta de uma rede de contatos tanto para evitar o isolamento quanto para conseguir trabalhos.
Um obstáculo é se sentir pertencente a esse novo mundo, diz Luiza. De Goiânia, a estudante diz que não tem “lugar mais diferente” de sua cidade natal do que Nova York o que é uma oportunidade, ao ajudá-la a criar a habilidade de navegar esses dois mundos, mas mesmo estando já há mais de três anos nos EUA, ela ainda sente insegurança.
“Às vezes eu me pergunto se será que eu deveria estar aqui mesmo.”
A recifense Sofia Monteiro Signorelli, 29, adiou o plano de estudar nos EUA diversas vezes por diferentes preocupações.
Primeiro, na graduação, o temor era de que sua rede de contatos ficaria limitada ao contexto americano, dificultando uma carreira no Brasil. Depois, no mestrado, a razão foi financeira.
“Eu passei na New York University, mas não fui porque você tem que se programar muito, passa um ano sem trabalhar, o dólar, dependendo que quando você vem, é pesado, e eu tinha acabado de sair da faculdade. Achei melhor fazer mestrado no Brasil para conseguir trabalhar ao mesmo tempo”, diz.
Formada em direito, economia e relações internacionais, ela está passando uma temporada de seu doutorado em direito na USP na Universidade George Washington, com uma bolsa Fulbright (programa de parceria entre os governos americano e brasileiro), e LLM (um mestrado específico em direito) na Universidade Georgetown.
“A pessoa que vem precisa se programar para o pior e o melhor cenário. Se o dólar está R$ 5, você se prepara para R$ 5,50. Se não você se priva de certas coisas que fazem parte da experiência e fica nervoso. Eu tenho colegas da Argentina, por exemplo, que não sabem como vão se bancar”, completa ela.
Incertezas financeiras são uma dificuldade antes, durante e depois da experiência internacional, e agravam o estresse do choque cultural. Esse é um dos focos de atuação da Brasa, uma associação de alunos internacionais brasileiros com membros nos EUA, na Europa e na Ásia.
Fundada em 2014, o grupo vem crescendo desde então, especialmente após a pandemia, quando ocorreu um boom na demanda pelos serviços oferecidos o número de participantes do programa de mentoria para interessados em estudar fora do Brasil, por exemplo, subiu de 30 para 100 entre 2019 e 2020, segundo o pesquisador Kelber Tozini.
A Brasa foi o tema do doutorado de Kelber, concluído no mês passado na Universidade George Washington, localizada na capital americana. O acadêmico também lidera o braço da associação na região.
O grupo é estruturado em diversas células, vinculadas a universidades ou a uma área geográfica. Há uma hierarquia, com um nível de liderança atualmente formado por mais de 30 pessoas e o restante dos participantes, que podem se envolver nas diversas atividades organizadas.
O objetivo do programa de mentoria é colocar em contato estudantes já aprovados em processo seletivo com aqueles que ainda vão enfrentar a jornada. Para além de auxiliar com as dificuldades burocráticas, a entidade fornece também uma bolsa para bancar os custos com as inscrições.
No caso de Luiza, foram cerca de US$ 5.000 para se candidatar a 16 universidades americanas custo bancado pela Fundação Lemann.
Para aqueles já nos EUA, as atividades da Brasa são importantes para reduzir o isolamento social e abrir espaços de networking, facilitando o acesso a vagas de trabalho, de acordo com a pesquisa de Kelber.
“Eu tentei entender como a associação ajuda a reduzir a inequidade entre alunos internacionais e domésticos. A Brasa ajuda muito a reduzir isso através do conhecimento dos alunos, pelos erros que eles cometeram. As primeiras gerações [da entidade], por exemplo, entraram em universidades muito menos competitivas do que os que fizeram mentoria com eles”, afirma o pesquisador.
Ele diz que esse tipo de organização estudantil internacional não é comum, e que a única comunidade que tem uma estrutura semelhante à montada pelos brasileiros é a indiana que soma quase 270 mil estudantes nos EUA.
Um problema da Brasa, porém, é a diversidade do grupo. De acordo com a tese de Kelber, a maioria dos brasileiros nos EUA é branca e egressa de escolas particulares. Iniciativas vêm sendo tomadas para combater o problema, como a criação recente de um programa voltado para negros e indígenas e o enfoque das bolsas para esses grupos.